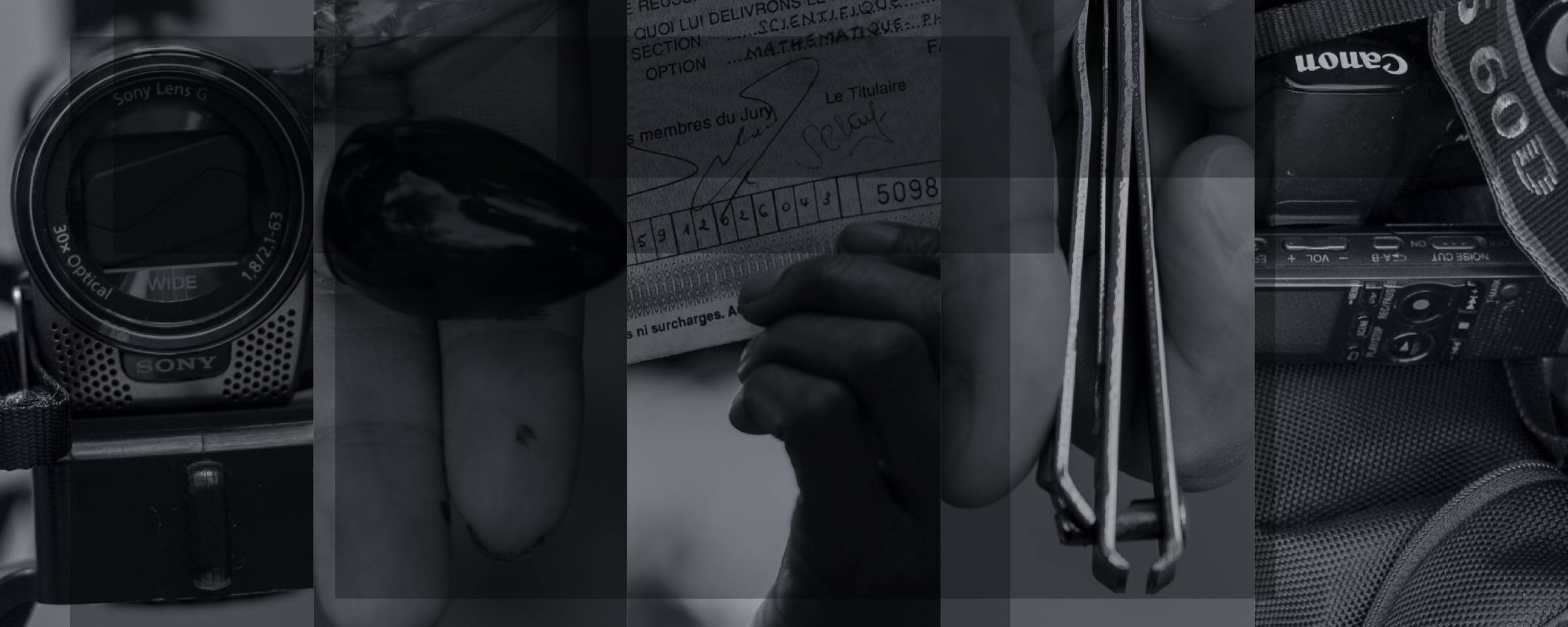"Terroristas", "inimigos do povo", "traidores da pátria", "incitadores da revolta popular". Da Síria à Hungria, da Venezuela à Somália, jornalistas ao redor do mundo são perseguidos e qualificados por adjetivos como esses quando contrariam interesses ao fazer seu trabalho. Os ataques podem vir dos próprios políticos ou de seus apoiadores, por meio de prisão, tortura, agressões, ameaças virtuais e até morte.
É uma realidade que Carlos, Claudine, Gabriela, Kamil e Victorios conhecem bem. Eles tiveram que fugir de seus países de origem –Venezuela, República Democrática do Congo, Nicarágua, Turquia e Síria– devido às ameaças que sofreram como repórteres. Buscaram refúgio no Brasil, onde tiveram que refazer suas vidas, a maioria longe da profissão.
Os cinco jornalistas contam suas histórias nesta reportagem, produzida em parceria com o Acnur (Alto Comissariado da ONU para Refugiados), no ano em que a agência completa 70 anos. Seus relatos revelam como se dá, na prática, a perseguição de governos autoritários aos meios de comunicação e a seus profissionais.
A intimidação inclui o fechamento de meios de comunicação que desagradam às autoridades, o confisco de papel para impedir jornais de circularem, a tomada de Redações pela polícia, a apreensão de documentos e equipamentos e a promulgação de leis de censura a veículos de mídia e a redes sociais, com a desculpa de combater o terrorismo ou resguardar a segurança nacional.
Também atinge pessoalmente os jornalistas, que ficam sujeitos a prisões arbitrárias, processos judiciais forjados, exposição de dados privados na internet, agressões durante coberturas e assassinato.
Parte deles não encontra outra solução a não ser deixar seu país para se preservar e, em alguns casos, seguir com sua cobertura crítica –diversos veículos independentes venezuelanos, por exemplo, continuam funcionando com quase toda a equipe no exílio.
Em 2019, mais de 80% dos profissionais que buscaram ajuda da organização francesa Repórteres sem Fronteiras (RSF) eram jornalistas que fugiram de seu país. Foram 238 só naquele ano, provenientes de 41 países, 55% deles da Síria. Eles se encontravam exilados em 44 países, especialmente na Turquia, principal receptor de refugiados do conflito sírio.
O CPJ (Comitê para a Proteção de Jornalistas), ONG internacional com base em Nova York, também tem uma contagem do número de profissionais de mídia exilados que buscaram auxílio da organização de 2010 a 2015. Foram 452 nesses cinco anos, com os países de origem mais prevalentes sendo Síria, Etiópia, Cuba, México e Irã.
Para 50% deles, o principal motivo da fuga foi a possibilidade de prisão. Outros 28% citaram ameaças de agressões como a razão primordial para sua saída. Dos 82 que haviam se exilado em 2015, só dois continuaram trabalhando com jornalismo, o que mostra a dificuldade de seguir com o ofício fora do país de origem.
Muitos citaram também temores de que familiares sofressem retaliações, além da possibilidade de eles próprios continuarem sendo perseguidos mesmo após sua saída.
De 2010 a 2020, 529 jornalistas foram assassinados em decorrência do exercício da profissão, segundo o CPJ, especialmente na Síria, no Iraque, na Somália e no México. O Brasil aparece em sétimo lugar nesse ranking.
Sobre jornalistas presos, um censo anual do comitê mostrou que no dia 1º de dezembro do ano passado eram ao menos 248, 66% deles acusados de crimes contra o Estado. China, Turquia, Arábia Saudita, Egito e Eritreia foram os líderes nesse quesito em 2019.
Outro levantamento, desta vez da RSF, mostra um número ainda maior de jornalistas assassinados nos últimos dez anos (694). Segundo a mesma fonte, ao menos 242 estão detidos atualmente.
A segurança para os profissionais da imprensa é um dos itens avaliados pelo ranking anual de liberdade de imprensa da RSF, que também leva em conta o pluralismo, a independência da mídia e a legislação para classificar 180 países.
Coreia do Norte, Turcomenistão, Eritreia, China e Djibuti estão atualmente nas piores posições, enquanto Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Holanda ocupam a outra ponta. Neste ano, ataques à imprensa ligados à cobertura da pandemia de Covid-19 fizeram vários países caírem no ranking, entre eles a Hungria e o Iraque.
O Brasil caiu cinco posições nos últimos dois anos, chegando à 107ª, o que a organização atribui à hostilidade do presidente Jair Bolsonaro em relação à imprensa e ao "gabinete do ódio" que o cerca e publica ataques a jornalistas que fazem revelações sobre políticas do governo.
"O presidente Jair Bolsonaro insulta e ataca sistematicamente alguns dos jornalistas e meios de comunicação mais importantes do país, o que estimula aliados a fazerem o mesmo, alimentando um clima de ódio e desconfiança para com os diferentes atores da informação", diz o relatório de 2020.
A organização também destaca a intensificação dos ataques durante a pandemia de coronavírus e a situação mais vulnerável das profissionais mulheres, atacadas com especial veemência nas redes sociais.
Em termos globais, o balanço da RSF não traz boas notícias. De 2013 para cá, o índice que mede a liberdade de imprensa no mundo caiu 12%, com a proporção de países em situação considerada "muito ruim" tendo aumentado de 2% para 13% do total. Atualmente, 61% dos países são considerados em situação "difícil" ou "problemática" e apenas 21%, em situação "boa" ou "satisfatória".
E a deterioração das condições de trabalho não acontece apenas em países com governos tradicionalmente autoritários. Na Europa e nos Estados Unidos, os ataques sistemáticos à imprensa por parte de líderes populistas e o fortalecimento de políticos e grupos de extrema direita têm ameaçado a atuação dos jornalistas.
Nos EUA, onde a liberdade de imprensa está protegida pela Primeira Emenda, "a hostilidade em relação aos jornalistas e aos meios de comunicação se intensificou, e os ataques mais virulentos foram os do próprio presidente", diz o relatório da RSF.
Desde que assumiu o poder, Donald Trump ataca verbalmente veículos de comunicação e jornalistas. A expressão fake news, popularizada por ele desde a campanha eleitoral de 2016, agora é usada por políticos de todo o mundo para atacar os meios de comunicação.
Segundo levantamento do New York Times, mais de 50 líderes mundiais usaram o termo para justificar suas ações que minam a liberdade de imprensa. Como exemplos, o jornal cita o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, o premiê da Hungria, Viktor Orbán, e os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e das Filipinas, Rodrigo Duterte, além do brasileiro Jair Bolsonaro.
"Ao atacar a mídia americana, o presidente Trump fez mais do que minar a fé de seus próprios cidadãos nas organizações de notícias que o investigam. Ele efetivamente deu a líderes estrangeiros a permissão de fazer o mesmo com os jornalistas de seus países, e até deu a eles um vocabulário com o qual fazer isso", diz o texto, assinado pelo publisher do jornal, Arthur Sulzberger.
O artigo segue afirmando que Trump também aprendeu com líderes autocratas a demonizar jornalistas, chamando-os de "inimigos do povo", frase usada historicamente para justificar execuções em massa na Revolução Francesa, no Terceiro Reich e na União Soviética.
Em 2020, a situação para os jornalistas americanos se deteriorou a partir de maio, quando explodiram os protestos contra o racismo e a brutalidade policial após a morte de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco em Minneapolis.
Segundo o Press Freedom Tracker, que documenta agressões contra jornalistas nos EUA, em apenas três meses de manifestações foram registrados mais ataques a profissionais de imprensa do que nos três anos anteriores combinados. Foram mais de 700 violações à liberdade de imprensa do fim de maio ao fim de agosto de 2020, enquanto de 2017 a 2019 o número se aproximava de 400.
Os ataques incluem prisões, apreensão de equipamentos e agressões com spray de pimenta ou balas de borracha disparadas pela polícia.
A Europa, continente mais bem colocado no ranking de liberdade de imprensa, também não está livre de ameaças. A Plataforma do Conselho da Europa para promover a Proteção do Jornalismo chamou a atenção para um "padrão crescente de intimidação para silenciar jornalistas" nos países da região, especialmente durante eleições, referendos e outros grandes eventos políticos.
A organização registrou 142 ameaças graves à liberdade de imprensa em 2019, incluindo 33 ataques físicos contra profissionais, 17 casos de encarceramento, 43 casos de assédio e intimidação e dois assassinatos.
No Reino Unido, os ataques de ativistas de extrema direita contra trabalhadores da imprensa vêm crescendo desde o referendo do brexit (saída do país da União Europeia), que dividiu profundamente os britânicos, alertou a União Nacional dos Jornalistas.
Com a polarização da sociedade brasileira e a campanha do governo para a desmoralização do jornalismo, alguns entrevistados desta reportagem temem que a liberdade de imprensa por aqui possa se deteriorar como em seus países de origem. "Vejo no Brasil de hoje a situação que havia na Turquia cinco, seis anos atrás", diz o turco Kamil, referindo-se à deterioração da livre expressão sob o comando de Erdogan.
Apesar de ter conseguido se reerguer e de estar adaptado a São Paulo, onde teve uma filha, ele diz que terá que buscar outro destino "se o Brasil começar a virar uma Turquia". "Depois de passar por algo tão brutal, nunca mais dormi tranquilo."
Novas leis que restringem a liberdade de expressão
Nicarágua set.20
Parlamentares ligados à ditadura apresentaram uma "lei de ciberdelitos", que permite tratar publicações em redes sociais e na imprensa como "crimes contra a segurança do Estado" e prevê penas de um a oito anos de prisão para seus autores. Quem usar sistemas de informação para obter dados de instituições públicas ou privadas também pode ser preso.
Hong Kong ago.20
Uma nova lei de segurança nacional, que proíbe a incitação do ódio contra o governo e introduz acusações sob termos vagos como subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras, tem levado à autocensura da imprensa, dizem jornalistas. Também passou a ser crime o vazamento de "segredos de Estado", dispositivo usado na China continental para prender jornalistas.
Turquia jul.20
Empresas de mídias sociais devem ter representantes no país para responder às autoridades sobre o conteúdo postado e inclui prazo de 48 horas para remover materiais considerados inadequados. Penas incluem multa de até US$ 700 mil, bloqueio de anúncios e corte de banda larga.
Hungria mar.20
Lei promulgada com o pretexto de combater a Covid-19 permite punir com até cinco anos de prisão quem publicar informações falsas ou distorcidas que "obstruam ou evitem a proteção eficaz da população".
Singapura out.19
Governo pode ordenar que plataformas de mídias sociais removam e corrijam posts que considera "contra o interesse público". O autor do post pode pegar até cinco anos de prisão, além de pagar multas pesadas.
Egito mar.19
O governo pode bloquear sites e contas de redes sociais com mais de 5.000 seguidores se considerar que são uma ameaça à segurança nacional.
Criado para auxiliar refugiados europeus, Acnur atua em crises humanitárias há 70 anos
Fundado em 1950 com objetivo restrito, prazo de validade de três anos e orçamento de apenas US$ 300 mil (o equivalente a R$ 1,6 milhão hoje), o Acnur (Alto Comissariado da ONU para refugiados) chega aos 70 anos em dezembro com mais de 17 mil funcionários em 134 países e orçamento de US$ 8,6 bilhões (R$ 47,4 bilhões).
A agência nasceu cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial exclusivamente para proteger refugiados europeus oriundos do conflito, mas acabou expandindo sua atuação após a Revolução Húngara de 1956, quando 200 mil pessoas fugiram do país.
O conceito básico do que é um refugiado –aquele que sai de seu país por fundado temor de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais– foi definido um ano depois da criação do Acnur, na Convenção dos Refugiados de 1951, e vale até hoje, com algumas atualizações.
Ali também foi cunhado o princípio basilar da não devolução, pelo qual um solicitante de refúgio não pode ser devolvido ao seu país, onde correria risco.
Na década de 1960, o Acnur consolidou sua atuação como órgão multilateral ao atender deslocados das lutas de descolonização na África.
A partir daí, atuou em crises humanitárias diversas, como os genocídios de Bangladesh em 1971 e de Ruanda em 1994, a fome em massa na Etiópia na década de 1980, as guerras do Golfo e da Bósnia na década de 1990 e, mais recentemente, o conflito no Sudão do Sul, a guerra da Síria, a crise da Venezuela e o êxodo dos rohingya de Myanmar.
Vencedora do Nobel da Paz duas vezes, em 1954 e em 1981, a agência passou a abarcar também a proteção a deslocados internos e a pessoas apátridas.
Apesar do salto no orçamento e no tamanho do órgão, as necessidades nessa área também cresceram exponencialmente. O mundo nunca teve tantos deslocados à força como hoje: são 79,5 milhões, quase o dobro de dez anos atrás. É 1% da população mundial, que se vê numa situação cada vez mais duradoura –só 3,9 milhões conseguiram voltar para casa na última década, comparados com quase 10 milhões da década anterior.
No Brasil, a agência atua desde 1982 e atualmente tem sede em Brasília e escritórios de campo em São Paulo, Belém, Manaus, Boa Vista e Pacaraima (RR).
Nos 70 anos de sua criação, organizará uma exposição itinerante sobre os jornalistas refugiados apresentados nesta reportagem em museus e centros culturais e São Paulo, além de palestras, podcast, mostra de filmes e publicações ao longo de 2021.