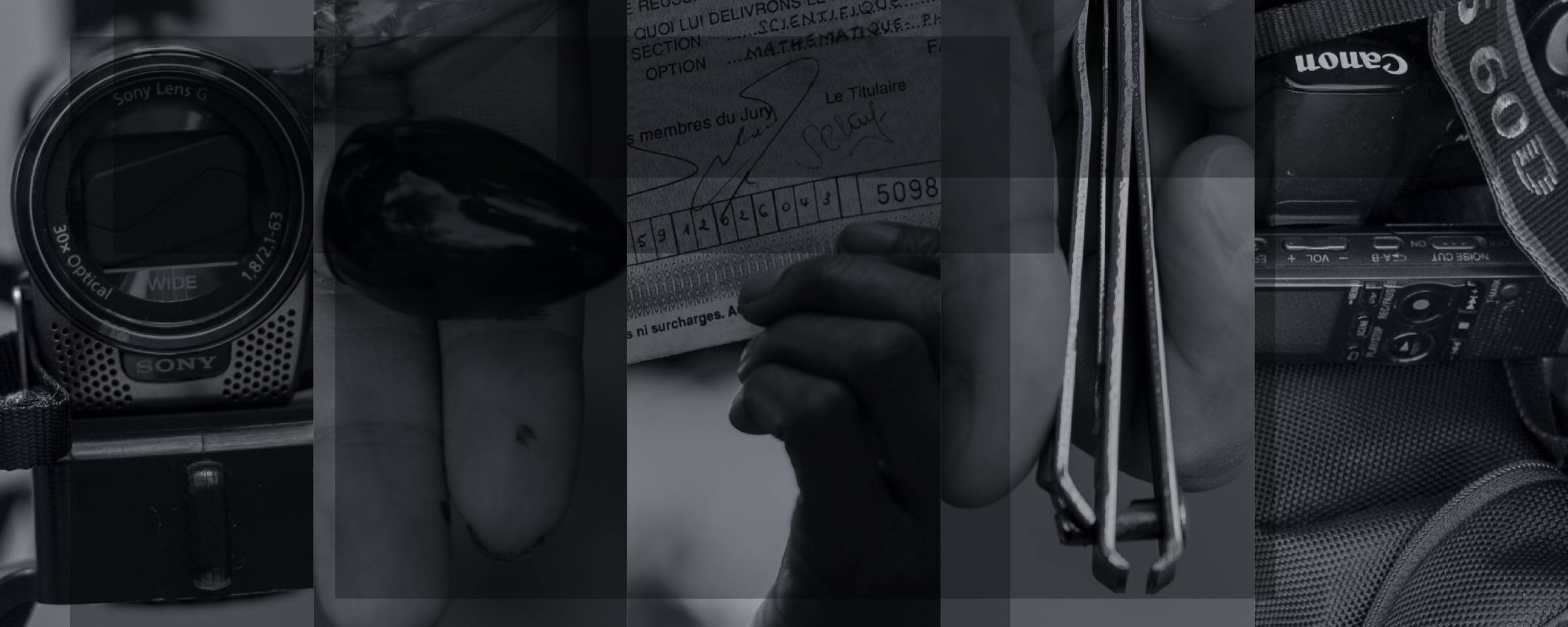Em junho de 2016, o jornalista Carlos Escalona trancou a porta do apartamento de três quartos em que vivia em Maracay, na Venezuela, para nunca mais voltar.
Também não apareceu mais para trabalhar na emissora de TV TeleAragua, na qual era gerente de produção. Nunca pediu demissão. Apenas foi embora, para iniciar um longo périplo que o transformaria em refugiado político no Brasil.
Foi de carro até o aeroporto de Maiquetía, perto de Caracas, de onde tomou um voo para Puerto Ordaz, no sul do país. De lá, ônibus até Boa Vista (RR) e depois Manaus (AM) e mais um avião a Fortaleza (CE), para encontrar amigos brasileiros que conheceu por praticar capoeira na Venezuela.
O fato que precipitou a guinada na vida de Carlos, hoje com 36 anos, havia ocorrido dois meses antes. Ao chegar em casa de carro numa madrugada, ele foi abordado por dois homens. Mas não era apenas mais um assalto num país com alguns dos maiores índices de criminalidade do mundo.
"Mandaram que eu passasse para o banco de trás e comecei a levar socos e coronhadas. Começaram a falar coisas muito específicas do meu trabalho e da minha rotina. Daí percebi que não queriam só levar meu carro", relembra.
No dia seguinte, relatou o episódio ao chefe na emissora, que deu de ombros. Tentou dar queixa na polícia, mas colegas recomendaram que esquecesse o caso.
O jornalista entendeu o recado. Queriam silenciá-lo.
Ele vinha num longo processo de desgaste interno na emissora, na qual trabalhava havia dois anos. A TV até hoje pertence ao governo regional de Aragua, alinhado ao ditador Nicolás Maduro.
Nem sempre foi assim: antes, chamava-se Color TV, era privada e crítica do governo. Em 2009, numa prática que se tornou constante na Venezuela do chavismo, o canal foi estatizado e teve o nome e a linha editorial mudados.
O tom oficialista era seguido minuciosamente, lembra ele.
"Se havia um artesão falando, ele tinha que dizer que graças ao governo conseguiu crédito. Se uma pessoa usava uma blusa azul ou preta, isso era ruim, pois podia representar um partido de oposição. Se usava blusa vermelha, tudo ok. Coisas absurdas assim", diz.
Mas não foi apenas isso que tornou o trabalho insustentável para Escalona, que guardava para si suas opiniões políticas (e até hoje não gosta de revelá-las). O que mais pesou foi a corrupção.
"Eu assinava os orçamentos de compras de equipamentos. Eu sempre gostei de mexer em câmeras, sabia os preços, e via que eram muito absurdos. Eu avisava meu chefe, e ele dizia: assina, não tem problema. E eu dizia que não, porque se houvesse uma auditoria, era o meu nome ali."
Começou a sofrer pressões internas. Primeiro, chamaram-no para uma reunião e ofereceram propina. Depois, retiveram uma parte de seu salário. E então veio o sequestro, que o deixou em pânico e motivou sua saída do país.
"Eu fiquei muito paranoico, não dormia no mesmo lugar [da noite anterior]. Não queria nem ter celular. Recebia ligações de ameaça em casa."
Com a ajuda do irmão, jornalista que trabalha para a CNN nos EUA, enviou seus pais para o Equador, antes de rumar para o Brasil.
Seu objetivo era seguir trabalhando como jornalista, mas teve dificuldade no início. Sem emprego em Fortaleza, veio para Jundiaí (SP), também seguindo contatos que fez na capoeira.
Na época, usava dreadlocks e diz ter sofrido preconceito por isso. Ninguém o levava a sério quando buscava trabalho (desde então, dispensou o adereço).
As coisas começaram a melhorar quando Carlos conheceu a Missão Paz, instituição filantrópica que ajuda imigrantes refugiados. Mudou-se para São Paulo, onde primeiro viveu na Casa do Migrante, abrigo mantido pela entidade.
Atualmente mora num apartamento pequeno no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, com a namorada, Marifer, também venezuelana, e a enteada, de 15 anos.

O jornalista Carlos Escalona com a câmera que usava para fazer reportagens na Venezuela Bruno Santos/Folhapress
O casal decidiu tentar a sorte no ramo gastronômico. Cozinhar, que era um hobby na Venezuela, tornou-se uma atividade profissional.
Após receberem treinamento da Migrafilx, startup que ajuda imigrantes a empreender, criaram a Nossa Janela, que vende arepas e outros itens da culinária venezuelana. Fazem delivery, catering e promovem uma "experiência gastronômica", em que vão até a casa das pessoas organizar um evento.
A atividade é uma forma de divulgar um lado pouco conhecido de seu país, acredita.
"Infelizmente as pessoas só conhecem a Venezuela pelas coisas ruins que estão acontecendo, pela gasolina barata e pelas misses bonitas. Mas o país é muito mais do que isso", diz.
Com a pandemia, o negócio deu uma parada, mas ele espera que a clientela retorne à medida em que a crise arrefece.
Em janeiro do ano passado, Carlos conseguiu status de refugiado, que lhe dá o direito de ter uma carteira de trabalho.
"A gente não quer tirar o emprego dos brasileiros. A gente quer se adaptar, e não ser um peso para a sociedade que nos acolheu", diz.
Episódios de preconceito, afirma, são raros, mas não inexistentes. "Já falaram para nós: 'Nossa, estão morrendo de fome lá na Venezuela e vocês vêm apra cá para vender comida?'"
A pele branca, no entanto, dá certa proteção. Amigos refugiados africanos, diz Carlos, sofrem bem mais discriminação.
Ele também conseguiu trabalho numa agência de publicidade para a qual faz alguns serviços. Trouxe os pais do Equador, que agora moram a algumas quadras de distância.
Com a vida estabilizada em solo brasileiro, Carlos diz ter cortado os laços com a Venezuela.
"É um país lindo, maravilhoso, mas hoje em dia não tenho vontade de voltar, pois considero o Brasil minha casa."
Isso independe, afirma, de Maduro seguir ou não no poder. O problema, para ele, passou a ser a mentalidade da sociedade venezuelana.
"São duas décadas com o mesmo pensamento. As pessoas ficaram acomodadas, ninguém quer trabalhar. Todo mundo ganha o carnê da pátria [que dá acesso a programas sociais], e para cada filho ganham um salário mínimo. Então, é mais negócio ter mais filho."
Carlos diz que ainda quer retomar plenamente sua carreira jornalística, que, antes de entrar em choque com os donos da emissora em Maracay, estava em ascensão. Ele havia trabalhado como fotógrafo do prefeito local e também no Ministério da Cultura e tinha uma extensa rede de contatos.
Como amuleto, trouxe consigo uma câmera digital portátil, que grava em alta definição e que está pronta para ser usada caso surja uma oportunidade. "É muito prática para fazer reportagem onde há muita gente, se você tem que andar ou correr."
Quatro anos e meio depois do trauma do sequestro, ele às vezes pensa o que teria ocorrido com sua vida caso tivesse cedido às pressões da empresa. O apartamento da família segue trancado, e vazio, após todo esse tempo.
"Se eu não tivesse agido corretamente, talvez ainda estivesse lá na Venezuela, com aquele emprego. Mas eu quis fazer o certo, e, se não fizesse, cedo ou tarde ia ser descoberto", diz.
Outro lado
A Folha tentou falar com os ministérios das Comunicações e das Relações Exteriores da Venezuela para pedir uma resposta sobre a perseguição a jornalistas no país, mas não foi possível estabelecer contato com nenhum dos canais de comunicação oficiais.
O regime de Nicolás Maduro não tem mais representação diplomática no Brasil, que reconhece como legítimo o mandato do opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente do país.