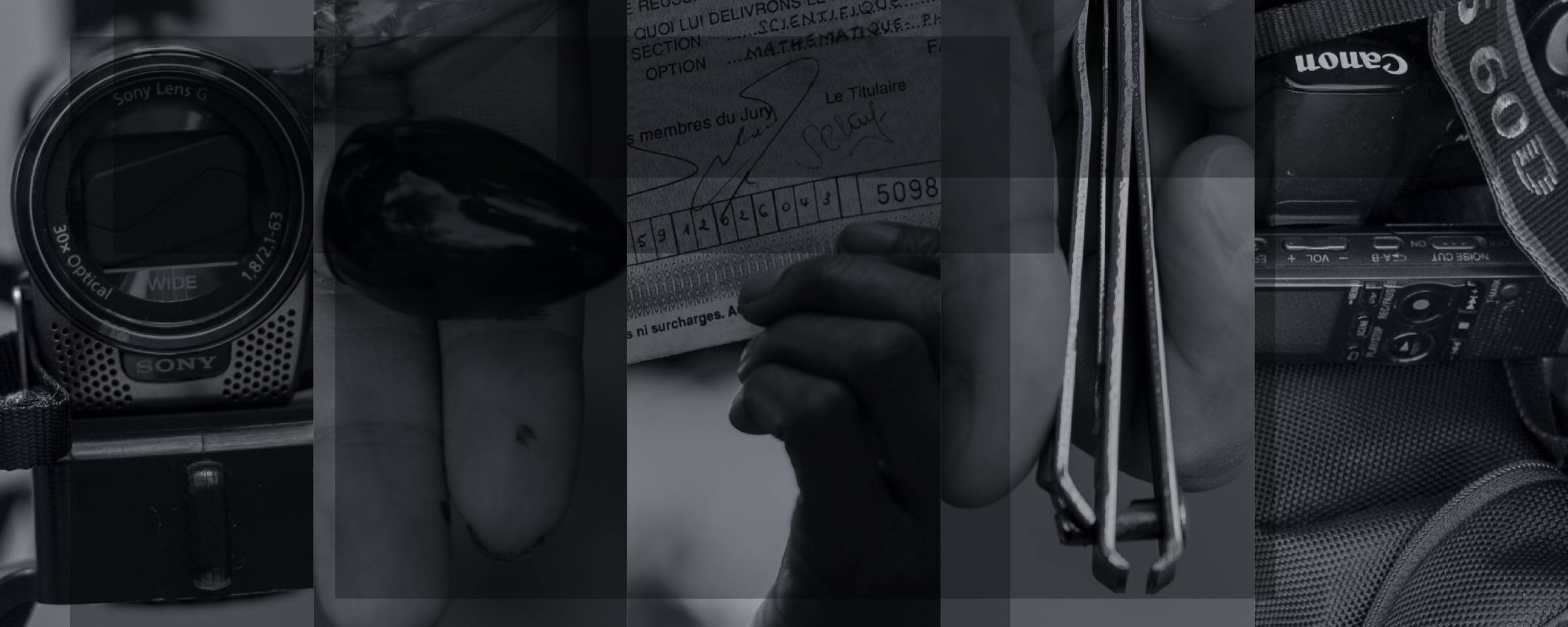Ela havia chegado de uma viagem a trabalho pela Tanzânia e o Quênia e dormia com o filho pequeno quando a casa começou a pegar fogo.
Foi acordada pelo telefonema de uma amiga que morava perto e percebeu a fumaça. "Eu fui atrás de duas coisas que eu salvei. Você pode imaginar que coisas eu salvei? Comecei a salvar meu filho e meus diplomas."
Aos 43 anos, Claudine Shindany conta essa história a um oceano de distância da República Democrática do Congo, no apartamento que divide com o filho, Blessing (bênção, em inglês), 14, na zona oeste de São Paulo.
Na sala ao lado, com fones de ouvido, o garoto acompanha aulas online durante o fechamento forçado das escolas provocado pela pandemia do novo coronavírus.
Os dois estão ali há poucos meses, depois de morar em vários lugares da cidade desde o final de 2014 –quando o Brasil virou o destino possível para a jornalista que precisou ir embora de seu país.
Já havia um temor difuso de trabalhar numa das regiões mais instáveis da África. A República Democrática do Congo está entre os últimos colocados no ranking de liberdade de imprensa da Repórteres sem Fronteiras: está na 150ª posição entre 180 avaliados.
Independente da colonização belga em 1960, o Congo enfrentou décadas de ditadura, guerra civil, surto de ebola e disputas pelas reservas de ouro, diamantes, cobre e cobalto.
As recentes ondas de conflito, especialmente nas regiões de Kasai, Tanganyika, Ituri e Kivu, forçaram 5 milhões de pessoas a deixar suas casas e migrar internamente entre 2017 e 2019, de acordo com dados do Acnur (Alto Comissariado da ONU para Refugiados).
Centenas de milhares mais fugiram para Angola, Zâmbia e outros países vizinhos.
Reflexos dessa violência foram o tema de uma publicação especial que Claudine coordenou sobre as crianças levadas à força para integrar o exército –segundo ela, foram essas reportagens que desta vez desagradaram aos políticos locais.
O pesadelo das crianças-soldados que Claudine registrou continua a se reproduzir na República Democrática do Congo.
Um relatório do Escritório Conjunto de Direitos Humanos das Nações Unidas apontou que pelos menos 50 menores passaram a integrar o grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) entre janeiro de 2019 e junho deste ano.
"Criança precisa estudar, criança precisa brincar. Criança é criança. A criança não pode ser responsável por uma arma. Por um fuzil!", diz ela ao lembrar o que via quando viajava pelo país para contar essas histórias.
As reportagens eram publicadas no grupo de mídia da ECC (Église du Christ au Congo), que reúne várias denominações protestantes e tem rádio, emissora de TV e jornais, com sede na capital, Kinshasa.
Nascida em Kikwit, na província de Kwilu, Claudine começou na ECC quando ainda cursava faculdade de jornalismo –depois de ter estudado também pedagogia.
Viajou o país todo, cobrindo o trabalho realizado pelas igrejas, principalmente nas áreas de saúde e educação.
Aos poucos, passou a coordenar equipes e a responder por toda a comunicação do grupo.
Nessa época, trabalhou também na comunicação do Unicef. "Uma das coisas que a gente fazia era incentivar a educação para as meninas. Em algumas regiões tanto do meu país quanto da África, a prioridade das pessoas é que o menino que tem que estudar. A menina não."

Claudine Shindany, que coordenava um grupo de mídia protestante em seu país e foi ameaçada por seu trabalho Bruno Santos/Folhapress
Nos encontros com as comunidades para convencer as famílias a mandar as meninas para a escola, Claudine falava "como mãe e como mulher que estudou" e citava o Brasil, então governado por Dilma Rousseff (2011-2016).
"O fato de existir uma presidente mulher... Usava a Dilma como exemplo de uma mulher na liderança de um país. Fazia bem isso."
Claudine diz que acreditava no poder de transformação do seu trabalho. "A comunicação, em qualquer lugar do mundo, é uma arma muito eficiente, muito eficiente. Pode botar fogo, pode reconciliar, pode desenvolver, pode tudo."
Por causa de suas reportagens –e das de outros profissionais de sua equipe– recebia ameaças por email e por telefone. Certa vez, foi barrada na entrada de um avião e liberada depois de algum bate-boca e sem maiores explicações tanto para a proibição de viajar quanto para a revogação da ordem.
Em outro episódio, desconhecidos invadiram sua casa com agressões e ameaças. Claudine estava viajando, mas sua mãe, que passava uma temporada com ela, foi empurrada e chegou a desmaiar.
Mas foi o incêndio que a fez tomar a decisão de ir embora. "Quando colocaram fogo na minha casa, eu percebi que tinha que parar. Parar."
Deixou para trás o país, o trabalho, os pais, duas irmãs e uma casa sempre cheia. "Quando as pessoas me perguntam 'Você tem quantos filhos?', eu falo 'Tenho dez'. Eu tinha mesmo muitos filhos na minha casa", diz, em referência a crianças que ajudava a criar.
Veio para o Brasil com Blessing e seu então marido. Ela já havia estado no país três vezes, em programas de parcerias entre instituições religiosas na África e a Igreja Evangélica Menonita de Interlagos.
"Eu não queria sair do Congo, não queria mesmo. Eu gosto muito do meu país, e na verdade eu estava bem", diz ela, que conta que gostava do trabalho, da oportunidade de viajar e de ter "um pãozinho para comer todo dia".
Quando migrou, não falava português e enfrentou uma dura crise com o marido, de quem acabou se separando.
Quase seis anos depois, em português fluente, ela lembra os dias seguintes ao incêndio. "Eu comecei a sentir medo."
O socorro do fogo veio dos vizinhos. "No meu país é diferente daqui. Lá, chamamos socorro, todo mundo apareceu. Saiu um monte de gente tirando as coisas. Não perdi nem uma colher! Tudo foi salvo."
Ninguém investigou os responsáveis pelo ataque. "A realidade do Congo não é a realidade daqui. Às vezes é complicado de explicar isso pras pessoas entenderem, mas infelizmente a gente vive isso: é governo, eles que mandam."
Os diplomas que correu para salvar, ela guarda numa pasta com alguns exemplares dos jornais com as reportagens que publicava.
Para Claudine, os papéis marcados contam sua história e provam que ela estudou –mesmo em um país em que isso não é considerado importante para as mulheres.
No Brasil, não voltou a atuar em uma Redação –apesar de contar com orgulho que revalidou o diploma. De forma voluntária, apresentou durante um tempo um programa na Rádio Migrantes, produzida com a Missão Paz, que acolhe imigrantes e refugiados no centro de São Paulo.
E transformou em trabalho uma ideia para apresentar seu continente aos brasileiros. "O pessoal fica perguntando 'Você já viu elefante?' A gente não morava no mato! A gente morava na capital, na cidade. Eu vi no jardim zoológico, na televisão."
Claudine recorreu às suas ferramentas combinadas da comunicação com a pedagogia e criou um projeto para apresentar a África às crianças por meio de brincadeiras, jogos, canções e brinquedos.
Hoje ela leva essa proposta a diferentes escolas de São Paulo, além de trabalhar no setor de regularização migratória do Cami (Centro de Apoio e Pastoral do Migrante), ajudando imigrantes a ultrapassar as barreiras burocráticas para se estabelecer no Brasil.
"Eu posso falar que eu estou feliz. O Brasil é meu segundo país. Eu gosto dessa mistura que eu vejo principalmente em São Paulo, onde eu moro. Esse tumulto de tudo. Essa massa de asiático, de europeu, africano, de América, de tudo."
Não fala em voltar ao Congo, que tem um novo presidente desde que ela saiu de lá –Félix Tshisekedi foi declarado vencedor em uma eleição contestada em janeiro de 2019, depois de quase duas décadas de Joseph Kabila no poder.
"Eu vejo que as coisas estão mudando, mas ainda não é claramente a mudança de que a gente está precisando. O rapaz que saiu [Kabila] está ainda lá, andando de boa, e mandando também. E não se tem certeza ainda de nada, mas enfim..."
Outro lado
A Folha tentou se falar com a embaixada da República Democrática do Congo para pedir uma resposta sobre a perseguição a jornalistas no país, mas não conseguiu contato com nenhum dos canais de comunicação oficiais da representação.