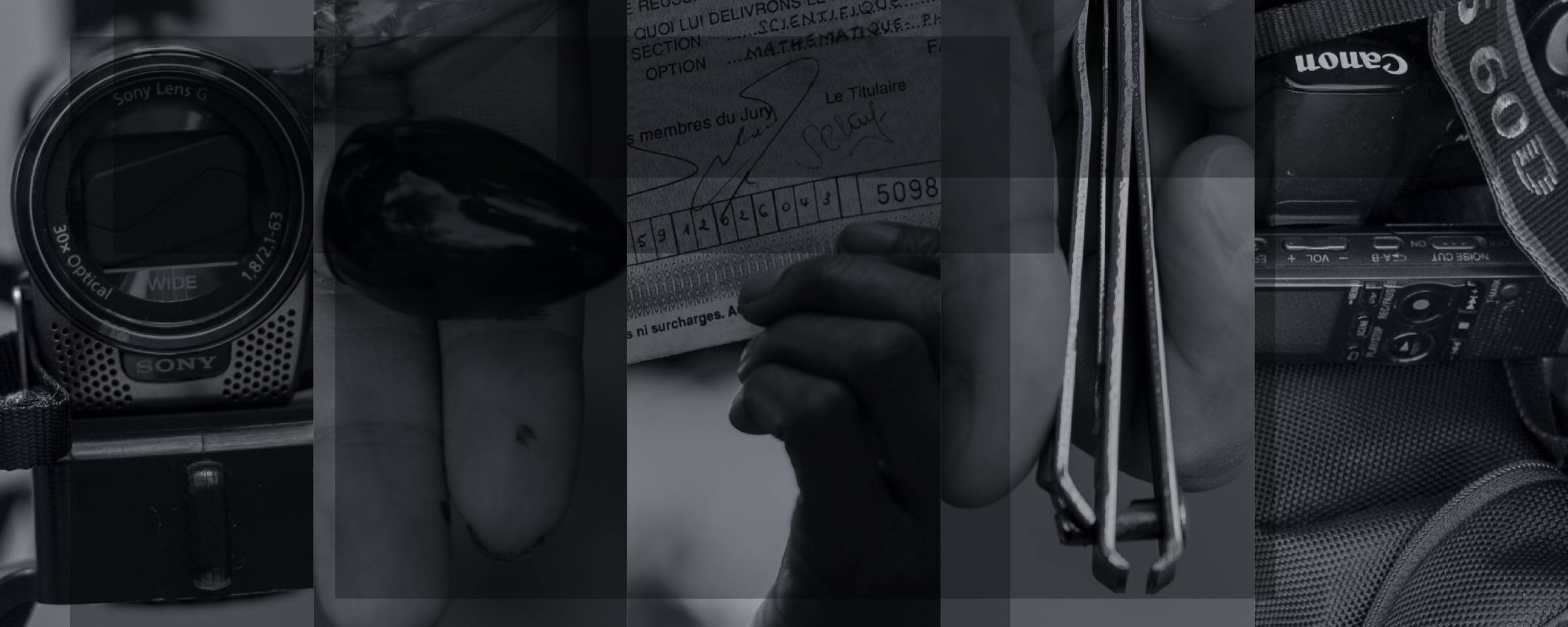Quando pegou o avião que a levaria de Manágua até São Paulo, Gabriela Castro, 31, estava vestida de preto da cabeça aos pés. Só se deu conta depois, porém. "Naquele momento não percebi o simbolismo que aquilo tinha. Mas era como se eu tivesse me vestido de luto por estar deixando meu país", diz.
A nicaraguense desembarcou em São Paulo em setembro de 2018, três meses depois de ver sua foto, acompanhada de seu nome, telefone e do bairro onde vivia, estampada em dezenas de grupos das redes sociais de seu país, com o rótulo: "Terrorista midiática que produz satânicas estratégias de notícias falsas".
Era o sinal de que se tornava uma jornalista ameaçada, mais uma entre os colegas que cobriam a convulsão social que tomara conta da Nicarágua desde o mês de abril, quando a população foi às ruas massivamente para se manifestar contra a ditadura de Daniel Ortega.
Primeiro presidente eleito após a derrubada de outro ditador, Anastasio Somoza, em 1979, Ortega voltou ao poder em 2007 e não saiu mais, colocando a mulher em cargos estratégicos, como o da Vice-Presidência, que ela ocupa hoje. A chama que acendeu o pavio da revolta popular foi uma tentativa de mudança na lei de previdência social, que levou parte dos nicaraguenses às ruas para pedir a queda do regime.
Foram meses de protestos, brutalmente reprimidos não só pela polícia e pelo Exército, mas também por milícias sandinistas (apoiadoras do regime), deixando ao menos 328 mortos, segundo a CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), incluindo uma brasileira.
Com o país pegando fogo, Gabriela cobria as manifestações como freelancer para meios de comunicação internacionais e era ativa no Twitter e no Facebook, fazendo lives e divulgando material sobre as perseguições e mortes de manifestantes. Até que, no dia 12 de junho, começou a receber ligações de amigos e mensagens com os links de seus dados expostos na internet.
"A coisa chegou até à minha mãe, de tanto que viralizou. Foi tudo muito rápido e, na adrenalina do momento, não senti medo. Mas foi estressante porque fiquei com aquela ansiedade de pensar: 'a qualquer momento eles vão chegar, vão me prender, mexer com algum membro da minha família'", lembra.
Por segurança, saiu de casa e ficou abrigada na residência de uma conhecida, onde passou quase dois meses isolada. Do lado de fora, a repressão continuava. "Me sentia impotente porque estavam acontecendo ações brutais contra pessoas próximas a mim e eu não podia me movimentar, tinha que ficar escondida tanto física quanto virtualmente", diz.
Um exemplo foi quando a polícia reprimiu um protesto de estudantes em uma universidade e cercou a igreja onde eles se abrigaram. "Uma amiga minha estava lá. Eles ficaram horas se protegendo dos disparos de armas de guerra", conta.
Gabriela denunciou as ameaças que recebeu à CIDH e a outras organizações de direitos humanos, mas não havia garantias de proteção se continuasse na Nicarágua. Decidiu deixar o país e ir para o exílio, como mais de 100 mil nicaraguenses fizeram desde que começaram os protestos.
"Eu estava no meu limite. A violência seguia escalando, e eu precisava ficar mais tranquila, preservar minha vida e evitar que minha família sofresse a repercussão dos meus atos", diz.
Escolheu o Brasil por já ter feito um mestrado anteriormente em São Paulo. "Conhecia bem a cidade, achei que seria mais simples retomar minha carreira de comunicação aqui. Claro que não foi fácil. Tive um episódio de estresse pós-traumático bem forte", diz ela, que emagreceu 20 quilos no período.

A jornalista Gabriela Castro, que escolheu se exilar em São Paulo por já ter feito um mestrado na cidade Bruno Santos/Folhapress
Entre as lembranças que trouxe na mala, está uma lâmpada que pertencia a uma das "árvores da vida", monumentos luminosos que são ícones da ditadura de Ortega e que foram queimados e derrubados por manifestantes.
Também uma pulseira com uma medalha de São Bento, que ganhou da mãe e usava no período mais violento da repressão –a Igreja Católica atuou como mediadora do conflito e sugeriu que a população recorresse a esse símbolo, que considera protetor contra demônios.
Gabriela se lembra dessa época como um período doloroso, mas também histórico em sua vida e na de seu país. Ela esteve, por exemplo, na marcha do Dia das Mães, em 30 de maio, quando centenas de milhares de pessoas protestaram, incluindo mães de vítimas da ditadura, e dezenas foram mortas, muitas delas por franco-atiradores com fuzis.
"De repente chegou a polícia e começou a disparar. Todo mundo correu, você escutava os tiros, via os corpos das pessoas assassinadas sendo retirados", relata. "Todos os dias era acordar e receber uma péssima notícia. Parei de dormir, só bebia água e café. Foi um processo violento, que criou uma atmosfera de terror."
Já na primeira semana de protestos morreu um jornalista. Ángel Gaona fazia uma live para as redes sociais de um canal de TV quando levou um tiro e caiu no chão, tudo ao vivo. A esposa e a filha dele tiveram que sair do país –é frequente que familiares das vítimas sejam ameaçados e precisem ir para o exílio.
Muitos outros profissionais da imprensa foram intimidados ou detidos. Um caso emblemático foi o de Miguel Mora e Lucia Pineda, diretores do canal 100% Noticias, que passaram seis meses presos sob condições precárias.
Logo depois, Carlos Chamorro, conhecido não só como um dos principais jornalistas do país mas também pela trajetória de luta de sua família contra a ditadura Somoza, exilou-se na Costa Rica. Seu jornal, o El Confidencial, já havia sido saqueado e ocupado por forças de segurança.
"Foram dias tão longos, tão cheios de emoções, vivemos tanta coisa...", reflete Gabriela. "E foi tudo em menos de três, quatro meses. Incrível, né?"
Para ela, o jornalismo tem importância crucial em seu país e deve continuar resistindo. "Ainda existem muitas violações aos direitos humanos, tem a pandemia agora, virá uma eleição no ano que vem. A imprensa independente tem que continuar informando o mundo do que está acontecendo. Temos que ser embaixadores desse projeto de liberdade, de trabalhar para, mesmo parecendo cafona, termos um país livre."
Ela enfrenta, porém, uma crise de consciência em relação aos rumos que o movimento contra Ortega tomou. Diz que a raiva dos opositores do sandinismo é tão grande que está caindo no fascismo. "As cores da bandeira se tornaram símbolos de nacionalismo, figuras como Trump e Bolsonaro são exaltadas, pedem novos governantes com traços ditatoriais", afirma. "Isso é triste porque você se pergunta: para que me envolvi nisso se no final ia acabar assim? Mas não estou arrependida do que fiz. O que a gente viveu em 2018 é muito diferente do que se vive agora."
Gabriela pediu refúgio no Brasil em outubro de 2018 e aguarda uma resposta ao seu caso. Ela diz que quase todos os seus amigos, não só jornalistas, estão espalhados pelo mundo e que sente tristeza por não ter podido se despedir deles.
"Todo mundo foi saindo da Nicarágua porque não havia garantias de vida, de liberdade. Estão agora tentando refazer a vida, encontrar empregos na Espanha, na Holanda, na Costa Rica. É chato porque não nos vemos desde 2018 e tivemos que reafirmar a amizade, o amor, tudo a distância."
Enquanto isso, ela se sente "com um pé no Brasil e outro na Nicarágua". "A Manágua onde eu vivi não existe mais porque as pessoas não estão lá, não é a mesma coisa", afirma. "Todo mundo quer voltar para casa, mas essa casa provavelmente já não existe."
Outro lado
A Folha pediu uma resposta à embaixada da Nicarágua a respeito da perseguição a jornalistas no país, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.